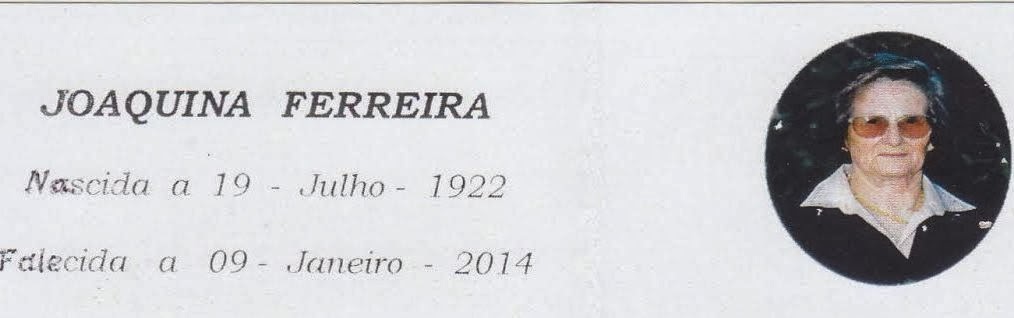ÇOCOS & ÇAPATOS
E O SR. CARLOS ÇAPATEIRO
(em defesa do nosso acordo ortográfico)
Por
ANTÓNIO AUGUSTO FERNANDES
Aqui há uns dias, na bela crónica da
Fátima, tropecei nos nossos çocos com que antigamente nos
artilhávamos para os nevões. E logo tilintou a minha sineta inquisitorial de
prof. de Português. Mas, que diabo! De facto, os dicionários registam socos,
o étimo latino é soccu, portanto em Rebordainhês deveríamos dizer /shocos/
Mas o povo tem (quase) sempre razão (e a Fátima também). O que acontece é que,
muito provavelmente, os nossos çocos
de Rebordainhos vieram através do castelhano zocos, donde a sibilante /s/. E o mesmo acontece com çapatos,
que no sec. XVIII ainda aparece grafado assim mesmo. E no Auto das Barcas de Gil Vicente lá vem o Çapateiro. Fiquemo-nos
portanto com os nossos çocos
rebordainhenses e os dicionaristas que se danem (para não o dizer em
Rebordainhês!).
E vamos ao que importa.
 Naquele tempo, quando as neves derretiam, o
carambelo desaparecia das poças e o sincelo deixava de se dependurar das
árvores e estas começavam a abrolhar, ia sendo altura de largar aqueles çocos made by tio Grilo Çoqueiro e voltar às
botas. Botas, pois, que de çapatos ainda não se falava. Mas como as botas do
ano anterior iam ficando apertadas ou com a biqueira roída com as futeboladas
na eira do Outeiro, ia-se pensando no fabrico de botas novas, a inaugurar pela
Páscoa ou, era o mais certo, em Julho, na festa do orago, S. Maria Madalena.
Naquele tempo, quando as neves derretiam, o
carambelo desaparecia das poças e o sincelo deixava de se dependurar das
árvores e estas começavam a abrolhar, ia sendo altura de largar aqueles çocos made by tio Grilo Çoqueiro e voltar às
botas. Botas, pois, que de çapatos ainda não se falava. Mas como as botas do
ano anterior iam ficando apertadas ou com a biqueira roída com as futeboladas
na eira do Outeiro, ia-se pensando no fabrico de botas novas, a inaugurar pela
Páscoa ou, era o mais certo, em Julho, na festa do orago, S. Maria Madalena.
Para mim era sempre um
acontecimento esta peregrinação à loja do Sr. Carlos Çapateiro (eu acho que não
era tio Carlos Çapateiro; ele tinha
direito ao tratamento por senhor
devido à excelsitude da profissão, àquele ar despachado com que cirandava pela
aldeia com o avental de cabedal, arvorado em distintivo da corporação de S.
Crispim, patrono dos sapateiros) e à sua capacidade mirífica de transfigurar
uns chanatos velhos em obra de primor. E era um acontecimento: primeiro porque
tinha pela frente o empreendimento de vadiar pela aldeia de uma ponta a outra,
com o que isso implicava de contactos sociais, de socialização, como agora se
diz: começava por uma paragem em frente da loja do Ferreiro, o tio Ramos,
fascinado pelo fogo-de-artifício que soltava ao malhar o ferro em brasa sobre a
bigorna. A seguir ia mergulhar os beiços na água fria da Fonte Grande. Na poça
do Espinheiro ficava-me a contemplar o rabear tonto dos cabeçudos na água
minguada, que as poças ainda não se tinham fechado para as regas. De passagem,
uma mirada gulosa para a amoreira do Sr. Lopes, suspirando pelas amoras do
Verão. Na poça do Covelo tinha que provocar o aranzel dos parrecos da tia Ana Costa, que atroavam o bairro
com o seu grasnar.

Já n’À Chave, na lojeca
do Sr. Carlos, era todo aquele ritual de tirar as medidas: descalçar a bota
velha do pé direito, pisar o bocado de cartão ou papel de cartucho para
registo, a volta de circum-navegação do lápis em torno do pé (o que me fazia sempre
cócegas ‒ ó miúdo vê lá se estás c’o pé quedo!). Depois, o Sr. Carlos
molhava o bico do lápis na ponta da língua, punha o nome do dono do pé no papel,
dobrava-o em quatro e arrumava-o na prateleira das obras encomendadas. ‒ Diz lá ao teu pai que daqui a um mês estão prontas.
Mas, tomadas as medidas,
eu arranjava sempre maneira de me quedar por ali, na contemplação do labor
sapateiral: martelar o couro demolhado, mas ainda rijo, sobre um rebolo de
seixo polido; segurar os liços entre os dentes enquanto a sovela furava as
viras de umas botas em construção, meter, num ai, as cerdas nos orifícios e dar
o esticão tenso para que os pontos ficassem bem firmes, lubrificar a ponta da
sovela na cera vermelha! Que grande artista era o Sr. Carlos! Mas o que eu mais
admirava era o manuseio daquela faca da profissão terminada em triângulo
rectângulo, quando com uma precisão de cirurgião alisava os bordos duma bota,
ou, maravilha das maravilhas, cortava uma rodela de cabedal, espetava-lhe a
faca sobre a tábua, puxava uma pontinha e zás! num passe de mágica estava um
atacador pronto!
Depois, aconteciam
sempre coisas por aqueles lados. Um dia era o Hermenegildo (o Gitlém, para quem
não se lembra) que urinava para dentro de uma garrafa de laranjada e lhe
aparecia à frente da porta a saltaricar:
‒ Ó tio Carlos, olhe liranjada, quer liranjada?
‒ Anda cá, meu safardana
que já te dou a liranjada!
Doutra feita, era o
filho mais novo, o Duarte, que não se cansava de remexer nas ferramentas do
ofício e se punha a pregar cerzetas à toa por tudo quanto era sítio: ‒ Ó fedelho,
desaparece-me! Vai mexer na maçaneta do escaravelho!
Esta de mexer na maçaneta do escaravelho era de
antologia e merecia figurar em qualquer cartilha de estilística!
Certo é que, ao fim de
uns tempos, lá vinha o Sr. Carlos, Prado fora, com um embrulhinho aconchegado
debaixo do avental de S. Crispim. E eram o meu enlevo aquelas botinhas ainda
com o cheiro forte do couro cru, com as solas cravejadas de cravinho miúdo cor
de prata. Havia lá no mundo çapatos que valessem umas botas daquelas! O tio
Grilo era uma artista com os seus çocos de pau de amieiro, mas não chegava aos
calcanhares do Sr. Carlos Çapateiro. Não haja dúvida.